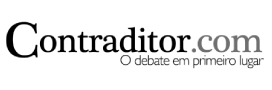Introdução
Vimos na primeira parte a formação da fronteira moderna, comparando esse processo com a fronteira na Antiguidade romana. Nesta, especialmente no período entre os Flavianos e Adriano, predominou o Limes, uma forma fronteiriça híbrida, assinalada pelo contato com o barbaricum. Não era uma demarcação de limites, pois o Império não os tinha. No principado, o fortalecimento do poder do príncipe sustentado pelo Senado e pelas legiões não conduz a uma paz territorial. Poderes locais e o avanço bárbaro desafiam o Império, e a gestão de seu domínio (universal) exige muita inteligência. A extensão da cidadania romana a quase todos os habitantes do Império, pela Constituição de Antonino Caracala (212 d. C.), modifica a situação em termos, mas a fratura cultural – que a fronteira romana gerenciava – continuou a existir. Nisso assenta o Limes. Essa fronteira tipicamente romana – plurimis locis, in quibus barbari non fluminibus sed limitibus dividuntur[1] – contrasta com a concepção rígida de fronteira-linha da modernidade. Apesar disso, e mesmo com a concentração do poder exigindo, a par da soberania – tematizada na filosofia política – um território rigorosamente limitado, sobrevivem até hoje as formas de contato e gestão territorial fluídas, em face da necessidade de gerenciar os territórios e o contato com o externo. As regiões fronteiriças protegem os confins territoriais. Sua função é, portanto, apenas próxima da que um dia exerceu o Limes romano.
No Brasil, a fronteira-faixa é uma porção territorial que resguarda a fronteira-linha na banda continental. É um dos mais ricos dispositivos político-geográficos de nossa história. Seu estudo ficou adormecido durante anos, reduzido à releitura de alguns clássicos. Revitalizou-se em virtude do interesse geral pelo fenômeno “fronteira” (alimentado pelas crises do nosso século, como a do 11 de setembro) e por influência de alguns marcos teóricos, como a tese do embaixador Sampaio Goes[2], defendida no Centro de Altos Estudos do Instituto Rio Branco (1982). Esse autor reintroduziu o estudo da formação territorial e das fronteiras entre o corpo diplomático do Brasil, por diversas obras, a incluir uma mais recente sobre Alexandre de Gusmão[3].
- Fronteira do Brasil. Da expansão à independência
Por diversos meios o Brasil foi expandindo e costurando seu território como o maior da América Latina. Como o Tratado de Tordesilhas era cheio de fragilidades, não foi difícil ultrapassar os limites ali estabelecidos.
As 370 léguas que contavam o domínio da coroa de Portugal partiam de Cabo Verde, mas o documento não dizia a partir de qual ilha do arquipélago deveria ser feita a contagem. Ainda, na época do Tratado sequer havia consenso sobre a extensão da légua marítima[4]. O mapa de Lastarría e F. Fernández dava três possibilidades de contagem da raia[5].
Para o mais, no território não se sabia exatamente por onde passava o meridiano, que simplesmente se dizia, no documento, ir de Belém até Laguna[6]. Na prática, supunha-se que cortava em alguma altura a foz do Amazonas ao norte, até algum local do Prata ao sul.
Esse quadro estimulou o avanço sobre o Oeste, enquanto os brasileiros continuavam a preservar, a leste, nossos limites marítimos, defendendo a costa.
As entradas e bandeiras empurraram a posse portuguesa para lá da raia de Tordesilhas. Com a unificação ibérica (1580-1640), esse processo acentuou-se muito[7]. E tamanha foi a ultrapassagem do meridiano que, findo o domínio espanhol, os súditos da coroa portuguesa já tinham Tordesilhas como passado.
Em 1680 é fundada a Colônia do Santíssimo Sacramento, avançando-se para o estuário do Prata, e pela mesma década descobrem-se as primeiras jazidas de ouro na margem do Rio das Velhas. Logo em 1701 instala-se a mais nova casa de fundição, a Oficina Real dos Quintos do Rio das Velhas, porque as demais fundições não atendiam aquela região, de onde sairia a maior parte do ouro quintado no século XVIII. Começa a saga dos metais e diamantes, e o povo ocupa as Gerais, descendo pelo São Francisco ou subindo de São Paulo. Poucos anos se passam até o nascimento da nova Capitania. Mais uns anos e Vila Rica se torna uma das cidades mais populosas do continente.
Nos primeiros tempos, o afluxo de muita gente fez crescer a fome, impulsionando as rotas de abastecimento e robustecendo mais ainda a ocupação territorial. Diferentemente dos paulistas, já acostumados à exploração da terra selvagem, que punham roça conforme avançavam, subindo para as minas, os ocupantes vindos de outras regiões não se precaviam, e logo a carestia lhes alcançava[8]. Foram anos dramáticos, esses primeiros, até que o abastecimento chegasse e que os exploradores dominassem a técnica.
Toda essa realidade criava uma situação caótica do ponto de vista jurídico, que somente seria resolvida pela mão do brasileiro Alexandre de Gusmão. O Tratado de Madri (1750), com o uti possidetis, garantia a legitimidade daquelas ocupações concretas, tanto mais em face da fragilidade que sempre assinalou os tratados anteriores; além de estabelecer o princípio da fronteira natural, que muito favoreceu a expansão[9]. A assimilação documental dos dois princípios, com a percuciência de Gusmão, marca a formalização jurídica do território, favorecendo a continuidade da expansão.
O século XIX viu o crescimento de nosso território, que atingiu sua dimensão continental unida, contra a progressiva formação de vários vizinhos separados. Em 1808 ocorre a ocupação da Caiena (na Guiana Francesa) por D. João VI, afirmação política contra as pretensões francesas na América. Pouco depois, a intervenção na Banda Oriental do Prata (1816), com anexação do atual Paraguai como Província Cisplatina. Essas ocupações, ainda que depois desfeitas, simbolizam a mentalidade expansionista e a continuidade dos fundamentos do Tratado de Madrid. Só alguns anos mais tarde, com a independência dos países latinoamericanos, é que a questão se desloca para outro nível político, e as nações passam a fixar o alcance geográfico de seu poder. Aí é que vão guerrear, especialmente no extremo meridional[10]. A diplomacia atua, no Império, especialmente pela mão de Duarte da Ponte Ribeiro[11]; e no começo da República pela habilidade de Rio Branco[12]. As diversas questões territoriais consolidam nossos limites até o início do século XX.
Paralelamente, desde a independência o Brasil precisou cuidar da fronteira e estimular a ocupação de uma área em cujos bordos havia os vizinhos soberanos. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu, para tanto, uma faixa de terras a resguardar a linha divisória, contadas 10 léguas da divisa para o interior do país, onde se excetuava a regra da aquisição por título que não fosse a compra e venda (art. 1ª da lei). Em outros termos: podiam ceder-se gratuitamente terras nessa área, sendo pretensão do Governo, justamente, estimular sua ocupação. Era o início da Faixa de Fronteira do Brasil.
- Evolução da Faixa de Fronteira
Depois de muitas variações ao longo do século XX, em uma enorme confusão legislativa que muito favoreceu o descontrole territorial, a Faixa de Fronteira do Brasil fixou-se desde 1979[13] – com uma lei depois recepcionada pela CF/88[14] – como a área de 150 km contados de um ponto seco na divisa nacional para dentro do território, indispensável à defesa nacional[15]. A Constituição vigente firma esse fundamento defensivo da Faixa de Fronteira (art. 20, §2º). As terras devolutas aí localizadas são bens da União (i.e., devolvem-se, quando de devolução se trata, ao domínio federal)[16].
Imensa, a Faixa de Fronteira – o nosso Limes, mutatis mutandis – passa por onze estados do país, 588 cidades e cobre mais de 16% do território nacional. Nela há tratamento especial de diversas situações. Boa parte dos atos de transferência na Faixa exige autorização do Conselho de Defesa Nacional, sucessor do antigo Conselho de Segurança Nacional. O CDN autoriza concessões, investimentos em infraestrutura, exploração mineral, iniciativas de indústria etc.[17].
À formação histórica da Faixa de Fronteira (processo bem desordenado entre 1891 e o fim dos anos 1970) somaram-se as políticas demarcatórias, já no século XX.
É que, depois de Gusmão e da diplomacia de Duarte da Ponte e de Rio Branco, e fixada a Faixa continental, ainda havia algo por fazer: demarcar o território expandido e formalizado, assegurando sua estabilidade, ainda que a população se retraísse, não avançasse mais, ou mesmo tendesse a voltar para o interior e a costa.
O mais importante nome nesse processo foi o do Chanceler Octávio Mangabeira. Esse político baiano, membro da Academia Brasileira de Letras, seria um ferrenho opositor do varguismo, tendo partido ao exílio em 1937, depois retornando e ocupando uma cadeira no Senado até sua morte. É avô de Roberto Mangabeira Unger.
O governo Washington Luís confiou-lhe, nos anos 1920, a política demarcatória das fronteiras do Brasil. E assim se fez. Dos trabalhos de Mangabeira surgiram os três arcos da Faixa de Fronteira do Brasil: Arco Norte, Arco Central e Arco Sul. Esses Arcos eram objeto de trabalho de três Comissões demarcatórias. A partir de 1934, determinou-se que as Comissões seriam comandadas por oficiais superiores das Forças Armadas, e que o trabalho de demarcação de fronteiras teria precedência, em tempos de paz, sobre qualquer outra missão[18]. Hoje, depois do processo demarcatório, prossegue – porque contínua – a fase de caracterização. Há duas Comissões do Ministério das Relações Exteriores encarregadas desse gerenciamento: a Primeira Comissão Demarcadora de Limites (sede em Belém/PA, responsável pelos limites com o Peru e daí para o norte), e a Segunda Comissão Demarcadora de Limites (sede no Rio de Janeiro, que se ocupa dos limites da Bolívia ao Uruguai)[19].
Essa é, brevissimamente, a etapa de consolidação do território pela via demarcatória, com alta dose diplomática, e sua continuidade com a política de caracterização, que é uma atividade permanente. A divisão dos Arcos tem permitido a gestão estratégica da área, porque direciona os esforços conforme as particularidades de cada região, extremamente heterogêneas. Mas qual o futuro da Faixa e, no mesmo sentido, da Fronteira continental do Brasil?
- A crise da Faixa de Fronteira. Seu futuro
Recentemente tem-se pedido, aqui e ali, a redução ou mesmo extinção, porque a Faixa de Fronteira seria um resquício da ideia de defesa e segurança, em tese já abandonadas em prol do mercado e da integração, especificamente no cone sul do continente americano.
Eh bien, com narcotraficantes transpondo, cheios de armamentos portados em mãos muito visíveis, as bordas do território, temos de pensar um pouco mais o binômio segurança-integração[20]. Uma história tão rica de expansão, diplomacia e demarcação tem de ser respeitada. Já estamos a fazer vergonha. Gusmão, Rio Branco, Mangabeira e tantos outros tiveram um senso de cuidado que os governos foram perdendo, em uma negligência muito grande com as fronteiras. Com o território como um todo, aliás, que segue ainda largamente desconhecido.
A crise dos anos 30 deprimiu os preços agrícolas e empurrou a população para as cidades – nesse grande fluxo migratório que inverteu, em meio século, a estrutura geo-ocupacional do país -, favorecendo o empobrecimento da área de fronteira, cujo desenvolvimento ficou pendente. E levou também a uma nova relação do brasileiro com seu próprio território. Povo de uma nação continental, sentimo-nos, contudo, parte apenas de pequenas áreas, muito limitadas. A população tende a espremer-se nos grandes centros, com uma qualidade de vida cada vez pior. Essa peculiar relação é também fruto do descaso com a política agrícola na fronteira, economicamente atrasada e marco da desigualdade do país, o que facilita seu uso como corredor de drogas e armas. Abandonou-se uma parte do Brasil, que segue desconhecido dos brasileiros e do Governo. E hoje vamos às voltas já não com esse abandono, por si só muito grave, mas com sua transposição pelo crime. O país das “terras devolutas” – um enigma jurídico, verdadeiro constrangimento, feito para ser transitório, mas já durando um século e meio – tem ainda a tarefa primária de conhecer seu território.
Tornemos ao problema da Faixa. A crença de que a defesa nacional trava o desenvolvimento nos parece carente de fundamentos, dadas as circunstâncias atuais. Sem dúvida, o desenvolvimento é um fator de segurança. Os produtores agrários são, em larga medida, fiadores de nossa proteção fronteiriça. Mas isso não suspende – ao contrário, reforça – a necessária atuação do Estado em uma área na qual já se firmaram poderes paralelos de toda ordem. A quantidade de terras devolutas é enorme, e o Estado precisa arrecadá-las e titular os ocupantes legítimos das áreas de domínio particular, cumprindo a política de regularização fundiária nessas duas frentes. Isso é requisito para que se possa discutir, por exemplo, o problema da aquisição de terras por estrangeiros. Na pendência de um controle territorial adequado o debate soberania x desenvolvimento perde força.
Por outro lado, em setores estratégicos, como o de mineração, a controvérsia sobre os rigores da “autorização e controle” parece anuviar-se.
O Conselho de Defesa Nacional recentemente autorizou diversas novas áreas de mineração na Faixa de Fronteira, nos três Arcos e em vários estados, de Roraima ao Rio Grande do Sul[21]. Houve também, no mesmo ato do CDN, autorização para duas pistas de pouso em área indígena – pedido feito pela própria Funai.
Considerando o aporte para o setor de mineração no Brasil – somados os projetos em execução e os planejados -, é pouco seguro afirmar que a proteção constitucional da Faixa de Fronteira realmente trava os projetos econômicos. A concentração de poder político é o fator mais discutível, em face das autorizações do CDN. Mas ainda assim, essa concentração ao menos permite, a princípio, um maior controle político, nomeadamente pelo Parlamento.
Para uma síntese: os críticos poderiam dizer que o “soberanismo” é a causa eficiente do atraso na fronteira. Mas, além das evidências de projetos econômicos em andamento, poucos ousam opor-se aos programas de vigilância fronteiriça, tendo em vista os dados alarmantes da rota do narcotráfico. Do modo como vão as coisas, podemos dizer que a crise da fronteira tem aliviado as iniciativas de redução da Faixa. Pouca gente terá coragem de, em face das evidências, sugerir o enfraquecimento do nosso Limes. Compatibilizá-lo com políticas de integração nada tem de mal: mas só há uma política e uma integração se houver um mínimo conhecimento e proteção do território. Esse ainda é um desafio a cumprir. Novamente: num país que ainda tem terras devolutas – as enigmáticas terras devolutas – há muita lição de casa à mesa.
Conclusão
O estudo histórico – revitalizado nas últimas décadas – contradiz a ideia de fronteira como um dispositivo do passado, dissolvido na integração mundial. Essa integração é que é controversa. É melhor admitirmos, por doloroso que seja à mentalidade moderna (e a nossa mentalidade é talhada para ser moderna, no sentido político), que havia mais naturalidade na concepção romana de fronteira do que na fronteira moderna, eivada das mesmas abstrações que assinalam as teorias que lhe estão na base. No século XVI, ainda havia alguma fundamentação transcendente do poder, e a realidade mostrava uma mistura de instituições medievais e modernas (exército permanente, funcionários, burocracia). No século seguinte, formulam-se as teorias hobbesianas e a filosofia política desce a um naturalismo violento. A fronteira é o limite de uma soberania entendida nos marcos dessa filosofia política. A industrialização e a massificação, abertas no século XIX, só muito relativamente apagaram fronteiras: foi justamente nesse período que as nações ocidentais mais se esforçaram por demarcá-las e dividir o nacional e o estrangeiro. E desde então, das tragédias do século XX ao nosso século e suas múltiplas guerras, a fronteira tem sido repensada.
Em uma nação imensa, como o Brasil, com fronteira continental na qual manam riquezas ainda desconhecidas, o fenômeno geopolítico “fronteira” assume uma conotação peculiar. Neste país que precisa lidar com o narcotráfico beirando seus lindes, a admissão dos lugares-comuns sobre a globalização é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Se a integração econômica é importante, suas condições são mais ainda. E do modo como estamos há muitos deveres a cumprir antes de se levantarem as restrições de fronteira e os poderes que, do Estado, nela incidem. Não devemos ter compromisso nem com as noções artificiais de soberania, gestadas para justificar o poder da forma mais irreal, nem com a igualmente onírica perspectiva de uma integração mundial sans-frontière. Gusmão, Duarte da Ponte, Rio Branco e Mangabeira, conhecendo o Brasil, cuidaram dos fatos. Cuidemos também.
[1] Aelio Spartiano, De vita Hadriani, 12, 6. Cf. I. Casaubon, Historiae Augustae Scriptores VI – Aelius Spartianus, Vulc. Gallicanus, Julius Capitolinus, Trebell. Pollio, Aelius Lampridius, Flavius Vopiscus, Lugduni Batavorum, Francisci Hackii, 1661, p. 57; Cf. E. Kornemann, Die unsichtbaren Grenzen des Römischen Kaiserrechts, Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften, 1934, p. 3.
[2] S. Sampaio Goes Filho, Navegantes, bandeirantes, diplomatas – Um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil, ed. rev. e atual., Brasília, Fundação Alexandre de Gusmão, 2015.
[3] S. Sampaio Goes Filho, Alexandre de Gusmão (1695 – 1753) – O estadista que desenhou o mapa do Brasil, 3.ed., RJ, Record, 2021.
[4] Cf. V. Borba, Fronteiras cit., p. 61-62.
[5] J. P. Galvão de Sousa, Introdução à História do Direito político brasileiro, 2.ed., São Paulo, Saraiva, 1962, p. 78.
[6] Dos locais, evidentemente, onde se encontram essas cidades, Cf. L. F. Castilhos Goycochêa, Fronteiras e Fronteiros, Brasiliana – Biblioteca Pedagógica Brasileira vol. 230, Rio de Janeiro, Companhia Editora Nacional, 1943, p. 12.
[7] J. P. Galvão de Sousa, Introdução à História do Direito político brasileiro cit. p. 76-77.
[8] A. Romeiro, Os sertões da fome – A história trágica das minas de ouro em fins do século XVII, in Saeculum 19 (2008), p. 165-181.
[9] S. Sampaio Goes Filho, Alexandre de Gusmão cit., p. 153 ss.; J. P. Galvão de Sousa, Introdução à História do Direito político brasileiro cit., p. 78 ss.
[10] L. F. Castilhos Goycochêa, Fronteiras e Fronteiros cit., p. 13.
[11] Cf. L. F. Castilhos Goycochêa, Fronteiras e Fronteiros cit., p. 17-18; S. Sampaio Goes Filho, Navegantes, bandeirantes e diplomatas cit., p. 249 ss.
[12] Sobre as diversas questões territoriais resolvidas por Rio Branco (Palmas, Amapá, Pirara, Acre), além dos tratados diversos (com o Equador em 1904; com a Colômbia em 1907; com o Peru em 1909 e com o Uuruguai também em 1909), Cf. S. Sampaio Goes Filho, Navegantes, bandeirantes e diplomatas cit., p. 308 ss.
[13] Para o histórico da Faixa de Fronteira nas diversas constituições e leis infraconstitucionais, Cf. V. Borba, Fronteiras e Faixa de Fronteira – Expansionismo, limites e defesa, in Historiae 4 (2013), p. 59-78, cit. p. 71; e M. Havrenne, Regularização Fundiária Rural, Curitiba, Juruá, 2018, p. 151-159.
[14] CF/88, art. 20, § 2º. “A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei”.
[15] Lei nº 6.634/1979. Art. 1º. “é considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira”.
[16] CF/88, Art. 20. “São bens da União: (…); II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei”.
[17] V. Decreto 85.064/1980 (regulamenta a Lei 6.634/1979). Tomemos alguns dispositivos como exemplos: Art 5º. “Para a alienação e a concessão de terras públicas na Faixa de Fronteira, o processo terá início no instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”; Art. 14. “Para a execução das atividades de pesquisa, de lavra, de exploração e de aproveitamento de recursos minerais na Faixa de Fronteira, serão observadas as prescrições gerais da legislação específica de mineração e o processo terá início na Agência Nacional de Mineração – ANM”; Art 22. “Para a execução das atividades de colonização e loteamentos rurais, na Faixa de Fronteira, serão observadas as prescrições gerais da legislação agrária específica e o processo terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforme Agrária (INCRA)”.
[18] Cf. V. Borba, Fronteiras e Faixa de Fronteira cit., p. 66.
[19] V. Borba, Fronteiras e Faixa de Fronteira cit., p. 60-61.
[20] Ver, a título de exemplo, a pesquisa do IPEA sobre a situação do Arco Central: B. Pêgo (coord.), Fronteiras do Brasil – uma Avaliação do Arco Central, vol. 4, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Ministério de Desenvolvimento Regional, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/20200109%20-%20livro_fronteirasdobrasil_vol%204_completo.pdf.
[21] Imprensa Nacional, Diário Oficial da União, Atos de 29 de abril de 2022, publicado em 02/05/2022, Edição 81, Seção 1, p. 8. Órgão: Presidência da República/Conselho de Defesa Nacional/Secretaria-Executiva.